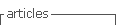1. Tem Alguém Naquela Árvore
Interpelada por uma voz cujos atributos extrapolam um corpo diferenciativo humano ao apresentar- se através de outras compleições e reclamos, sento-me para escrever e meu confronto preambular é preterir a presença eloquente de um assobio insistente ao meu redor. Defronte a mim, lá está ela: trata-se de um organismo de penas amarronzadas e longa cauda -comportando similitudes a um feitio de galinha - mimetiza com os cacarejos, sempre pontual nas alvoradas e vespertinos. Rouca, de timbre áspero, profusa como anunciativa, me interdita o silêncio, encostando sua cantilena presença na minha janela. Não saberia precisar sua espessura - talvez análoga a um papagaio avantajado; as asas protusas, arredondadas e adejantes exibem-se com intensidade e me instam a localizá-la por sobre as copas frondosas das folhas verdes escuras das capororocas. Lá no alto este corpo se instala, e entoa versos agudos, de um canto inteiro, sem que eu possa deduzir a medida. Talvez tal tradução se insinue no compasso do acompanhar a experiência de sua existência na minha, o que então começa por assumir perceber esta vida manifesta como alguém.
Então, descubro que por nome minha intercessora atenderia Aracuã. Dizem alguns que a conheceriam por Jacuí. Contaram-me que a alcunha Jacuí é ilustrativa de rio, atribuída ao seu biotipo de cauda comprida. Fato é que para mim, seu cacarejar a ornamenta como figura híbrida, e esse hibridismo invadiu o tempo de minha escrita, bem como nos sonhos, atravessando o pensamento sobre até onde alcançamos enxergar a vida na ciência e na educação: numa galinha-que-voa, num animal deformado, meio-outro, assim como os devir-mutantes, os quírons, ou nos seres enfeitiçados. Grita, estridente, às vezes apressada, interferindo meu pensamento com a imediatez das vidas outras. Com efeito, essas vidas para as quais olha-se pouco: disputando um galho com algum ser imaginário ou ao qual nos falta, em geral, perspectiva de sentido. Se eu respirar baixo, até posso ouvir suas unhas roçando nos gravetos, seu piar minudenciado, e sou assim influída a ver, por horas a fio, o mundo animista que me captura compondo-me em texto. Instaura-se, a partir de então, essa tentativa de gesto especulativo sobre concebermos outros modos de viver e dizer na ciência e na educação.
2. Breve Fábula da Monomórfica Educação Ocidental
Há alguns anos meus esforços como professora concentram-se no exercício de aprofundamento de pensar outramente a educação. Isso significa pensar a educação como modo de viver para além da excepcionalidade do antropos ocidental e presenciar continuadamente a seguinte interrogação: que consequências tiramos para o pensamento em educação se aceitarmos que o mundo é, afinal, multiespécies e pluriontológico?
Anna Tsing aponta que a excepcionalidade do humano, fundamento ontológico da modernidade ocidental, é a dificuldade que nos arrasta a nos imaginarmos superiores a outros modos de existência e de existências mais que humanas. Segundo ela, “o excepcionalismo humano nos cega. A ciência herdou das grandes religiões monoteístas narrativas sobre a superioridade humana. Essas histórias alimentam pressupostos sobre a autonomia humana e levantam questões relacionadas ao controle, ao impacto humano e à natureza, ao invés de instigar questões sobre a interdependência das espécies” (Tsing, 2015, 184).
Ocorre que, como indica Viveiros de Castro (2015), nem todo antropos é o antropos do humano ocidental. A propósito de seu ofício autodeclarado contra-antropológico, Viveiros de Castro assevera que esse excepcionalismo não se generaliza a todas as experiências de humanidades, uma vez que “povos outramente humanos teriam uma antropologia não antropocêntrica”. Basicamente, para povos originários os parâmetros de existência estariam fundamentados na capacidade interpretativa biosemiótica dos mundos, tendo, portanto, como pressuposto a relacionalidade entre vidas mais que humanas, e jamais na ideia de que a vida humana seria excepcional ou superior.
Neste texto, proponho que a educação ocidental seria um corolário da metafísica ocidental circunstanciada como o controle da continuidade de um modo monomórfico e universalizador de existência. A educação seria o exercício, portanto, da continuação de um modo de existir: nas interdições sobre o que é-e-não-é um humano possível, na monoforma e na monocultura das práticas linguísticas, na corrente execução (ou tentativa de) aniquilação de outras humanidades outramente possíveis e, mais uma vez, na premissa de sua excepcionalidade sobre demais formas de vida (humanidades outras, sobrenaturalidades, forças de natureza). Em linhas gerais, é possível descrever a educação ocidental como o controle deliberado e intencionado de universalização da continuidade de um modo de existência.
Contemplarmos, então, a educação como esse controle da continuidade a partir da monoforma, do excepcionalismo humano e da subjugação das outras humanidades outramente possíveis passaria aqui primeiramente por uma espécie de anamnese-do-tempo-presente. Como lembra Aimèe Cesáire (2020), é preciso realçar a indefensabilidade do Ocidente quando se aceita a desigualdade entre reparações do holocausto versus a permanente permissividade de extermínio dos povos considerados sub-humanos em modos de vidas não Ocidentais: “pode-se matar na Indochina, torturar em Madagascar, encarcerar na África Negra, castigar nas Antilhas” (Césaire, 2020). Também necessário reivindicar a noção de necropolítica, conceito medular de Mbembe (2018) que exprime as condições do tribunal ocidental que autoriza quem (e o que) morre e quem (e o que) vive sustentada pela escalabilidade de humanidade.
Conveniente, nessa direção, inventariar ‘fatos’ conjunturais do embranquecimento na colonização sulamericana. Por exemplo: Barreto (2003, 64) e Munduruku (2012, 30) ao descreverem os processos de instauração colonial por meio da educação no século XVI, relatam o dramático percurso de dominação dos povos autóctones. Expõem as concepções ora exterministas, ora integracionistas dos empenhos de conversão civilizatória dos povos originários ao modo de viver europeu que, ao exterminarem fisicamente múltiplos povos, devastavam intencionalmente múltiplos territórios existenciais. Posteriormente, os modos sobreviventes (povos não massacrados) seguindo assediados à aderência compulsória e concebidos como “atrasados”, eram rebaixados a pertencerem a estágios de uma evolução-desaparecimento inexorável. Essa mentalidade evolucionista fortemente sedimentada no imaginário ocidental, posteriormente impôs-se diante da tutela orfanológica, prevista em 1831 - mediante a qual o Estado “protegeria (os indígenas), promoveria seu sustento, ensinar-lhe-ia um ofício, e o integraria à sociedade nacional” (Munduruku, 2012, 31).
Embora seja bastante controvertida a questão do número populacional existente no território brasileiro no prenúncio da colonização, estima-se que esses números variaram entre 2 e 4 milhões de habitantes.
Para fins de comparação, a população portuguesa se acercava de 1.500.000 pessoas no século XVI. Contudo, o que de fato é expressivo é que este território contava com uma população astronomicamente diversificada e o processo de diferenciação compunha-se como um primado cosmológico (Clastres, 2017). Conforme aponta Almeida (2010), mais de mil etnias coexistiam, guerreavam em variadas e instáveis paisagens políticas de convivências, intercâmbios cíclicos de parentescos e inimizades. Quatro séculos após o massacre colonial, no mesmo território, das mil etnias contavam-se 206 (Almeida, 2010, 30).
Se observarmos a monomodalidade linguístico-existencial da vida ocidental, em meio a colonialidade esses números são também eloquentes. Como indica Duarte (2016) dados contemporâneos estimam que 90% das línguas do mundo provavelmente desaparecerão até o final do século XXI. Considera-se que existam atualmente no mundo conhecidas 6500 línguas mas que, entretanto, dois terços destas serão provavelmente extintas até o final deste século. Como aponta o autor, “das (aproximadamente) 500 línguas autóctones no continente sul-americano, cerca de 420 línguas ameríndias apresentam riscos vultuosos de desaparecimento “devido à pressão que sofrem das línguas majoritárias, ou pelo simples fato de o número de falantes nativos ser muito reduzido” (2016, 28).
Não obstante devastadora, a ocorrência dos encontros e confrontos coloniais também desenverga a pertinácia da vida em reinvenção. Rufino (2021), nesse caso, caracteriza a história da educação brasileira como a história do processo de catequização e conversão - ou, da tentativa continuada - de conversão ao modo de viver ocidental. Entretanto, reporta que essa relação embora fulcralmente assimétrica instigou (e instiga) resistência e cruzo: povos e práticas subalternizados ante políticas de dominação ontológicas de Estado empreenderam cruzamentos transgressores e criativos, “emacumbando” e contra-enfeitiçando as experiências de diáspora e degredo - daí a invenção do que Rufino classifica como pedagogia das encruzilhadas, a partir do entendimento dos terreiros de religiões afro-indígenas brasileiros como espaços vivos de educação. Segundo ele, antes que binária, a pulsação das vidas figuradas na macumba atua em desvio, transcendendo a pura oposição ou submissão, mas reinventando a vida “a partir dos cacos” (Rufino, 2019, 77). Disso nasceria uma pedagogia das encruzas parida no “entre”, na liminaridade ou frestas da devastação colonial e que “responderia eticamente àqueles que historicamente ocupam as margens e arrebatando aqueles que insistem em sentir o mundo por um único tom” (Rufino, 2019, 77).
Assim, acompanhando esses cenários histórico-temporais tampouco encorajo a proposição de existência de uma oposição ingênua de modos de vida autênticos, inertes e puros diante do seu encontro violento com a mentalidade universalizante das práticas coloniais. Como menciona Viveiros de Castro (2008, 141), não há “culturas” inautênticas, pois não há culturas autênticas. Não há, nesse sentido, modo de viver autêntico. Como diz ele,
não há indios, brancos, afro-descendentes, ou quem quer que seja autênticos - pois autêntico não é uma coisa que os humanos sejam. Ou talvez seja uma coisa que só os brancos podem ser, uma vez que “a autenticidade é uma autêntica invenção da metafísica ocidental, ou mesmo mais que isso - ela é seu fundamento, entenda-se, é o conceito mesmo de fundamento, conceito arquimetafísico” (Viveiros de Castro, 2008, 141).
Essas noções confluem com a ideia, sobretudo, de que grupos indígenas e seus modos de vidas, bem como todos os coletivos vivos, “longe de estarem congelados, transformam-se através das dinâmicas de suas relações em processos que não necessariamente os conduzem ao desaparecimento” (Almeida, 2010, 24). Entretanto, não é o caso, sob qualquer hipótese, de amainar a violência cabal do processo de ocupação, pilhagem e extermínio administrado pelo genocídio colonial; mas identificar a complexa trama existente de gradações de refazimento e de possibilidades das sobrevivências.
Ainda assim, observarmos o projeto intencionado de universalização de um monofórmico modo de viver que se anseia sobrepujar sobre outros possíveis e, mais do que isso, entendermos que essa ideia conjura, organiza, e comensura política e existencialmente os mundos a partir de suas premissas (um mundo que fala em nome dos mundos) parece-nos fundamental para entendermos a situação em que vivemos e fabularmos (com outros) modos de viver. Neste encalço crítico encontram-se os túrgidos debates acerca da educação escolar, suas funções histórico-civilizatórias, mas também suas apropriações, cooptações e atualizações.
3. A Escolarização dos Mundos: a Monotemporalidade que Ensina a Viver e Dizer Olhando para Frente
Calcada, sob forte ideário homogeneizador orientada para a universalização da condição do melhor- humano-ocidental, a escola moderna é a instituição que se consagra enquanto método educativo em meio a uma estratégia econômica dos processos de subjetivação. Consectária das disputas por fiéis cristãos instruídos e as reformas religiosas no século XVII, foi com a Didática Magna, de Comenius que se dinamizou nas escolas europeias um paradigma transdiscursivo que expressou o “núcleo de ferro do discurso pedagógico moderno” (Narodowski, 2001, 6). Mediante fundamento teleológico e de uniformização das práticas e do ordenamento temporal, a partir da instauração da proposta comeniana é desenhada a organização de uma didática e reforma dos espaços educativos a partir da qual: centralizou-se a extensão dos alvos (educar a todos), a gestão de um tempo único (educar a todos ao mesmo tempo), do formato das relações educativas (educar a todos ao mesmo tempo e da mesma forma) e para os mesmos fins (educar a todos ao mesmo tempo, da mesma forma e para os mesmos propósitos).
Com relativo consenso, considera-se com Comenius o grau zero da educação moderna, o ponto de inauguração de um modelo de continuidade que se alastrou, consagrando-se posteriormente através das escolas de massas na construção dos Estados-Nação e com os processos de colonização num processo irreversível de naturalização da escolarização do mundo.
A escola, portanto, lócus decisivo configurado para o acontecimento da educação no Ocidente, emerge como esta instituição não-natural, dispositivo institucional (Varela & Alvarez Uria, 1992) firmemente estabelecida através da racionalidade ocidental, que desde o seu nascimento moderno se “desenvolve com orgulhosa missão civilizadora” (Sibilia, 2012). Assim, nasceu e difundiu-se mediante ostensiva intenção “disciplinatória dos selvagens” (2012, 41), engendrando posteriormente “milhões de corpos que se mobilizam ao compasso dos ritmos urbanos e industriais, tutelados pelos vigorosos credos da ciência, da democracia e do capitalismo, obrigados à meta indiscutível do progresso universal” (Sibilia, 2012, 42).
Evidentemente, não desconsidero as muitas transformações que a educação e a escola -aqui analisada ontologicamente- atravessaram. Entretanto é possível identificarmos traços fundamentais de uma mentalidade que calça as formações das nossas estruturas imaginativas até o presente. Um destes traços mais estruturantes reside na dificuldade de pensarmos outras temporalidades como modos de vida, devido sobremodo a base teleológica investida na noção de progresso que arrebanha utopias de desenvolvimento - coletivo e biográficos. Assim, nós nos educamos fundamentalmente para andarmos para frente: trabalhamos para vencer o tempo; damos por fracasso ou atraso o que não couber na medida temporal do progresso e não cultivamos múltiplos usos do que chamamos viver.
A escolarização moderna-ocidental ao mundializar-se contribuiu, nesse sentido, para a distribuição dessa cosmopercepção (Oyeronké, 2021) de viver como uma específica dominação humana sobre as vidas, sobre o tempo e sobre as demais vidas mais que humanas. É a geopolítica psíquica modernizadora (Viveiros de Castro, 2006), que assenhoreia o vivível como projeto unívoco de existência, e domina o nosso imaginário sobre como se pode afinal, ser-viver-tornar-se. Como diz Tsing, as categorias e premissas do progresso e de evolução estão conosco em todos os lugares. Imaginamos seus objetos todos os dias: democracia, crescimento, esperança. Por que deveríamos esperar que as economias cresçam e as ciências avancem? [...] A noção de progresso está também embutida em suposições amplamente aceitas sobre o que significa ser humano. [...] Enquanto imaginarmos que os humanos são fabricados por meio do progresso, os não humanos estarão igualmente presos nesta estrutura imaginativa (Tsing, 2022, 64).
Também nesse sentido, Shiva (2003, 22) sugere que a crise e a falência das alternativas de soluções diante do colapso existencial contemporâneo, corresponde diretamente a falência da multiplicidade e daquilo que Tsing nomeia como multiplicidade ontológica. Conforme relata a autora indiana (Shiva, 2003) os conteúdos transmitidos pela cultura científica correspondem a uma história domesticada das descobertas de uma pequena parcela da comunidade humana, uma vez que não circulam a diversidade de explicações, especulações e métodos de olhar, classificar e hierarquizar os fenômenos do mundo pelos intelectuais da tradição (povos originários). A este exemplo, são os métodos científicos de calcular e fazer previsão climática que são comunicados nas escolas, e nunca as formas tradicionais de leitura do ecossistema realizadas pelos peritos da tradição (Shiva, 2003, 23).
Neste rastro, criticando os modos de fazer-dizer científicos & canônicos estão alguns movimentos como as considerações perpetradas pelo grupo de intelectuais Slow Science, sobretudo com a figura de Isabelle Stengers (2015, 115), que problematiza a produção de um conhecimento tecido sem “tempo para pensar”. Com a fast-ciência a maior dificuldade seria não tanto a velocidade das produções de “respostas” no campo do pensamento intelectual e científico, mas o imperativo de “não perder tempo”, pois a
Fast science refers not so much to a question of speed but to the imperative not to slow down, not to waste time, or else... It may be tempting to associate this ‘or else’, which evokes the prospect of a fall, with the noble demands of a vocation, which scientists would betray if they did not devote their whole life to its fulfilment. However, the way this so-called devotion is obtained and maintained, through a training that channels attention and eagerness while restraining imagination, has nothing noble about it.
Assim, também politizar as formas de contar histórias em ciência e academicamente constitui parte do entendimento de que mais importante para as ciências experimentais que desvelar uma verdade nobre e única é a sua qualidade de experimentação; isto é, fazer experimentações com o pensamento e, desse modo, desacelerar. Uma alternativa a esse imperativo começaria, precipuamente, por redirecionar as nossas atenções: aceitar que a pretensão do humano moderno não é o único parâmetro usado para fazer mundos uma vez que estamos cercados de muitos projetos de fazer-mundos, (diversamente) humanos e mais-que- humanos. E por estes “projetos de fazer-mundos surgirem de atividades práticas do fazer da vida, no processo, eles transformam nosso planeta. Entretanto, “para percebê-los, à sombra do antropo - do Antropoceno, precisamos redirecionar nossa atenção” (Tsing, 2022, 65).
Assim, alego que derivar a atenção como atitude política de aceitarmos vidas multiespecíficas e pluriontológicas passa por realçarmos a dignidade do que Anna Tsing denomina como curiosidade. A curiosidade de estar a todo momento com muitos mundos diante dos olhos: “nós negligenciamos os outros muitos modos de vida por não serem parte da narrativa do progresso. Estes meios de vida também fazem mundos, e nos mostram como olhar ao nosso redor, em vez de olhar para a frente” (Tsing, 2022, 66). Essa ideia especialmente nos incide na medida em que define-ampliando possivelmente o trabalho educador e científico como praticantes inalienáveis do gesto especulativo, para quem narrar histórias intensifica o senso de ‘possibilidade’ (Debaise & Stengers, 2016). Isso integraria primacialmente o propósito de des-asfixiar os possíveis, em divergência ao prováveis. Como diz Debaise & Stengers (2016, 89), o
provável é por definição [...] uma transposição ou um rearranjo do que já ocorreu ou do que está em andamento. O provável pertence a uma lógica de conformidade: o que contou no passado, o que permite caracterizá-lo, manterá esse poder no futuro. Quanto ao possível, importa a eventual irrupção de outros modos de sentir, de pensar, de agir, que só podem ser vislumbrados no modo da insistência, minando a autoridade do presente na definição do futuro.
Assim, os gestos especulativos seriam os que “aguçam o atrito com a experiência” (Debaise & Stengers, 2016) portanto não se confundem com uma filosofia especulativa mas tratam de um certo modo de colocar perguntas dispondo “o pensamento sobre o signo de um engajamento por e para o possível que devemos ativar tornar perceptível ao presente”. Nesse sentido, se trata de exercitar um modo de viver e escrever como um compromisso do pensamento que fabula ao lidar com as consequências de sua proposição. É pensar no sentido de colocar questões “e se”, ao invés de dizer o que é. É pensar o que poderia ser: fazer ciência-fábula como experimentação. Isto é, cultivar uma proposição que não teria vocação restritamente descritiva ou normativa, mas que conforme diz Stengers (2016, 82), decorrente do que Whitehead chamou de “isca de sentimentos”, uma forma de despertar possibilidades”. Ou, como diz Pignarre & Stengers, escrever como quem “lança sondas”.
Assim, nessa direção Haraway incentiva o uso da ficção para a construção de pensamentos, sobretudo a ficção científica dada a sua consistência em fazer com que o nosso mundo seja desnaturalizado como único possível, infundindo uma desabituação sobre o agora para daí pensarmos em outros modos e mundos possíveis. E é então nesse caso que um gesto especulativo em meio a um mundo devastado é iniludivelmente uma possibilidade de sobrevivência. Contam também Didier Debaise & Stengers (2016) que
importar uma situação, passada ou presente, é intensificar o sentido de possibilidades que ela oculta por meio de lutas e demandas por outra forma de fazê-la existir. É por isso que o pensamento especulativo é encontrado tão facilmente em histórias e narrativas que, como a ficção científica, exploram outras trajetórias possíveis (Debaise & Stengers, 2016, 89).
Ao destrinchar o que nomeou etnografia multiespécies, Tsing igualmente afirma que “a possibilidade de fabular mundos é uma habilidade alentadora para enfrentarmos as ruínas do Antropoceno (2022, 10). Tsing quanto Haraway comungam da compreensão de um fazer ciência enquanto contação de histórias: prática gestada por meio dos disparadores dos dados e “fatos selvagens”. Importa, portanto “quais histórias contamos para contar outras histórias; importa quais nós fazem o nó, que pensamentos pensam pensamentos, que descrições descrevem descrições, que laços amarram laços. Importa que histórias fazem mundos e que mundos fazem histórias” (Haraway, 2015).
Então, retomando o prenúncio deste artigo, se aceitarmos que mundos são pluriontológicos e multiespécificos, como vivermos e dizermos por e com outros-modos?
4. Outros Modos de Dizer em Educação: Escrevendo como Quem Olha ao Redor
Olhar ao redor, portanto, é o que nos trouxe aqui. Embora em franca conexão com a estridente- existência da pessoa-galinha-ave-enfeitiçada defronte a mim, poderia eu optar por ignorá-la? Isso talvez fosse o recomendável em narrativas metodológico-científicas austeras: render-me-ia textos independentemente do entorno, do clima, das nuances do céu, das paisagens político-temporais e dos humores da vida circundante. A práxis monomodal é parte do que classifico como economia de escrita científica de modelo extrativista, uma escrita da escalabilidade.
O conceito de escalabilidade de Tsing (2022), seria uma noção arrolada a experiência histórica e existencial das plantations que além de cindirem relações de sujeitos desemaranhados de suas paisagens vitais estendeu-se como modelo replicável a outras paisagens do mundo. A escalabilidade seria uma maneira de aplicação estéril e plástica de formas de manejar a vida “indiferente à indeterminação dos encontros, que não se altera em sua replicação e que ignora as diferenças” (2022, 15). Conforme diz Tsing (2022), trata-se de uma tradução que não se afeta. Proponho aqui, com os pares tentaculares já mencionados, imaginar de outros jeitos: que viver e dizer de outros modos na vida, ciência e em educação passe por ‘perder’ tempo olhando ao redor e portanto, a outros modos de fazer-com mundos; ou, became-with, devir-com (Haraway, 2015).
Como já manifestaram Musseta & Adó (2020, 272), experimentamos suficientemente a monomodalida de e a escritura canônica da impersonalidad absoluta. [...] Y lo que no se ajusta, queda fuera. Los cuadros, las flechas, los colores, las conexiones, la vida misma. Una ilusión de producto sin proceso previo. Sólo quedan palabras, y no cualquier palabra.
É, nesse sentido que pensarmos outros modos de viver em educação passa por propor outras temporalidades científico-fabulatórias: por exemplo trabalhando mediante um pensamento e escritura sazonal e biosemiótica e compreendendo que na base de tudo há a relação e a colaboração que se faz enquanto se está e enquanto não se está, circunspectamente, a escrever. Trata-se, poder-se-ia dizer com Deleuze, de pensar a partir do meio, “com tudo o que uma experiência implica, dobra em si mesma, e sem um princípio de ordenação crítica que a purifique, isole, a torne autossuficiente. Nada que é real é auto-suficiente” (Debaise & Stengers, 2016, 87). O fato isolado não existe: o “meu texto” não existe por si mesmo. Mais uma vez: “a conectividade entra na essência de todas as escolhas: é da própria condição das escolhas que elas estejam conectadas” (Debaise & Stengers, 2016, 87).
Olha-se, então, ao redor para encontrar outras emergências: não programadas ou estratificadas, outros acontecimentos, em meio a vida, encarregar-se da indeterminação. Como aponta Stengers para quem, “os papéis se abrem das contingências”, as proposições se dão a partir do acontecimento e em especial da possibilidade de espaços de hesitação. É uma convenção dizermos que não escrevemos sozinhos. Mas não escrevemos sozinhos não apenas por estarmos escoltados por referências afetivas literárias ou assistidos poeticamente por qualquer linhagem de autores. Não escrevemos sozinhos porque nunca escrevemos apesar das vidas que nos sustentam mas por causa delas, ou, como diria Haraway, por interatuação. Exagero, por necessidade, na citação quando diz Tsing que
O progresso é uma marcha para frente, que arrasta outras modalidades de tempo para o interior de seus ritmos. Se não fôssemos conduzidos por sua pulsação, poderíamos notar outros padrões de temporalidade. Cada ser vivo refaz o mundo a partir de ritmos sazonais de crescimento, padrões reprodutivos de vida e expansões geográficas. Também no interior de uma determinada espécie, encontramos múltiplos projetos de criação de temporalidades na medida em que organismos se recrutam uns aos outros e se coordenam na construção de paisagens. A rebrota da floresta cuja madeira fora extraída na cordilheira das Cascatas do Oregon e radioecologia de Hiroshima nos mostram, cada um a seu modo, criações e temporalidades multiespécies. A curiosidade que defendo persegue estas temporalidades múltiplas, revitalizando a descrição e a imaginação. Isto não é um simples empirismo no qual o mundo inventa suas próprias categorias. Em vez disso, descrentes na direção imposta pelo progresso, nós podemos olhar para o que tem sido ignorado por nunca ter sido encaixado na sua linha do tempo (Tsing, 2022, 65).
Então que notar o entorno permite-nos incorporar o que aparece nas margens indomáveis da precariedade, concebida como “a condição de estarmos vulneráveis aos outros” (Tsing, 2022, 64). Tsing nos lembra quão difícil é aceitar a indeterminação pois cada um de nós foi educado mesmo e “cresceu em meio a sonhos de modernização e progresso”. Nesse sentido, produzir consoante à sazonalidade e contextos em divergência à escalabilidade do pensamento generalizável condiz com o conceito de simbiogênese deslocado por Haraway. Ela propõe que nós não somos a história da soma de pessoas e ambientes. Diferentemente, a partir de Lynn Margullis recomenda nos pensarmos como simbiontes que constituem holobiontes: relacionalidades, enredos, entrelaces que coevoluem relacionalidades, enredos e... entrelaces.
Simbiontes e holobiontes são conceitos chave de Haraway na obra Seguir com el problema (2019), e que acendem a reimaginação de como seria possível escrever em ciência. Descritos por Haraway como seres inteiros e sadios não se tratam de seres individuais, mas, ao contrário, “poliespaciales y politemporales, los holobiontes se mantienen unidos de manera contigente y dinâmica, involuncrandose com otros holobiontes em patrones complejos”. Os seres, portanto, não precedem suas relacionalidades, se geram mutuamente a partir de seres de enredos anteriores. Antes que a ideia de espécie teríamos a coevolução. O organismo qualquer que seja é, portanto, realidade de uma relação, como um consórcio: apenas nosso corpo é composto de mais de 160 espécies de bactérias. Como questionou Sztutman (2018): o que restaria para que isto nos trouxesse a uma nova ideia de corpo (humano), mas também de corpo político (portanto corpo de convivências) conforme disparam Margullis e Haraway? Na medida em que pensamos e agirmos de forma simpoiética, e não autopoética, radicalizamos (a política da) existência como interatuação e interdependência.
Nossas narrativas, nesse sentido, seriam sempre holobiônticas, interatuada pelas vidas: não há qualquer instante no qual se escreva por autonomia. O que temos é uma convivência colaborativa a exemplo dos fungos, das bactérias que neste exato instante permitem a um organismo derramar aqui estas palavras. Escreve-se porque uma condição de vida se abre, não uma decisão exclusivamente individual e cognitiva de fazê-lo. Em síntese, escrevemos porque a vida suporta, mesmo quando em ruínas.
4. Conclusões. Os Mil Modos de Viver: Refazendo os Parentescos e Vivendo Como Quem (se) Composta
Melhorar o mundo por meio da educação é o estribilho do senso comum. Como educar para “um mundo melhor?” é a pergunta que nós já nos fizemos todos, um dia, como educadores. Inspiro-me em três premissas trabalhadas por Tsing, Haraway e Stengers enquanto expediente de resolução.
Anna Tsing em “O cogumelo no fim do mundo”, aborda os modos de vida do cogumelo Matsutake e suas relações com os coletores. Não se tratando de um cogumelo qualquer, Matsutake refere uma espécie do Reino Fungi prevalente apenas em áreas degradadas por catástrofes ou altamente interferidas e perturbadas. Em síntese, o Matsutake seria a primeira vida que floresce após desastres: uma espécie pioneira que desponta após condição de devastação como as afetadas por radioatividade, caso de Chernobyll. O destaque na etnografia brilhante de Tsing é que os cogumelos Matsutakes são impossíveis de serem plantados e cultivados deliberadamente isto é, todas as tentativas de reproduzi-lo em laboratório ou em agricultura não obtiveram êxito. Sendo uma iguaria escassa e valiosa no mercado de alimentos só é então é possível importá-lo junto a economia dos coletores nos quatro únicos distintos lugares onde o fungo emerge. Não cabe aqui desenvolver a protuberante estrutura argumentativa de Tsing e as muitas teias que a desdobram. Mas sua menção, mais uma vez aqui, é devida ao campo de reflexões que se descortinam a partir da observação da emergência de um cogumelo-iguaria em um mundo em ruínas e a consequente atitude política de viver quando são “as ruínas os nossos jardins”. Assim, sem nenhuma perspectiva salvacionista em meio as discussões do Antropoceno, em sua etnografia com o cogumelo, Tsing sugere que se o desastre é o pressuposto de como vivermos neste tempo, nos cabe dançarmos com a situação: encontrando e preservando as paisagens indomáveis de habitabilidade.
Para Haraway, além de encontrar e preservar as paisagens indomáveis talvez também devêssemos assumir o retorno da urgência de seguir com o problema (o antropoceno, o excepcionalismo do antropos ocidental e suas repercussões) no colo: suportar o problema, com o horror e a alegria que ele se nos impõe. Haraway nesse caso, toma a saída do devir-com simpoiético. Quiçá pudéssemos, segundo ela, assumir por relacionalidade e parentesco, a ideia de que antes que humanos somos húmus: somos compostagens, visto que a compostagem seria nossa ontologia relacional, nossa condição como terranos (Haraway, 2019).
Se somos húmus daí a extraordinária construção literária especulativa dos filhos da compostagem, fabuladas por Haraway em Histórias de Camille. Descrevendo cinco gerações, os filhos da compostagem seriam aqueles que tentariam fazer florescer a terra a partir de alianças simbiogenéticas com outras humanidades mas também com demais espécies mais que humanas. Gerar parentesco, para Haraway converte-se numa questão primeva: quebrar a ideia de parentesco mediante aparelhos de reprodução (apenas) biológica, ressignificando o termo parente (e família), dilatando a noção de convivialidade mas fazendo nele caber outras espécies, fazer parentes estranhos, com seres humanos e não-humanos. Aponta Haraway (2019) que “fazer parentes é uma prática popular em alta, e os novos nomes também estão proliferando; [...] «parentinovador”, parentinovação, clãnarquista». Segundo a autora, estes termos longe de serem apenas palavras, são pistas e “estímulos para sismos na criação de parentes que não estão limitados aos dispositivos da família ocidental, heteronormativos ou não”, uma vez que “os bebês deveriam ser raros, cuidados e preciosos; e os parentes deveriam ser abundantes, inesperados e duradouros” (Haraway, 2019, 144).
É fundamental destacar que nas comunidades de compostagem fabulada por Haraway a defesa seria não apenas pela existência do parentesco multiespécies mas como pelo escudamento de povos não ocidentais (indígenas) devido a compreensão de que estes seriam espécies de guardiões de modos biosemióticos de viver (a exemplo de povo originário do México simbiontes com a borboleta Monarca). Nesse sentido a fabulação especulativa que Haraway produz em Histórias de Camille se trata de um cruzamento de narrativas multiespecíficas mas também decoloniais (ou, multinaturalista?) na medida em que concebe que as possibilidades de parentesco e simbiogêneses são possíveis devido a existência e preservação destas relações ensinadas e conhecidas por estes povos. Assim, construir alianças ou o mínimo reconhecimento da condição de que os engajamentos mútuos são a base ontogenética de qualquer ser, tornaria base de viver e cultivar parentesco com os muitos mundos mais do que humanos que habitam sobre a Terra.
Condigo com Viveiros de Castro para quem a crise metafísica atual do Ocidente é uma crise singularmente física. Isto é, as perturbações geofísicas, as catástrofes climáticas, exprimem contingências ocasionadas pelo capitalismo industrial, mas antes, por uma lógica civilizatória que leva o planeta a uma condição hostil à sobrevida (Viveiros de Castro, 2014, 196). Experimentar outras escrituras e imaginações no campo da Educação talvez não seja algo apenas filosoficamente sugestivo mas conveniente à sobrevivência. Ou como diz Stengers & Pignarre, supondo o capitalismo como um “sistema feiticeiro sem feiticeiros” (2017), precisamos reativar as técnicas de desenfeitiçamento: reativando, por exemplos, “vínculos julgados perdidos ou inexistentes - com deuses e espíritos -mas também com a Terra’ (Stengers & Pignarre, 2017). Nesse caso, inventar receitas minoritárias de resistência (Stengers, 2017), envolveria escrever, em ciência, com e a partir de outros modos de existir. Escrever como uma experiência animista, escrever com a língua da participação - em referência à bruxaria de Starhawk (Sztutman, 2018). Afinal, como aponta Krenak, “tirar petróleo, furar plataforma continental, devastar a Floresta Amazônica, caçar ouro para todo lado, toda essa cosmovisão constituída de um planeta cheio de concreto, viadutos, pontes, rodoviárias, metrôs. Essa parafernália toda é uma ofensa ao corpo da Terra. A Terra respira” (Krenak, 2019, 21).
Aceitarmos então que vivemos em mundos pluriontológicos e multiespecíficos derivaria na “arte de prestar atenção”. Transfigurando numa compreensão de proposição cosmopolítica ao decidirmos dilatar o espectro de realidades de existentes que participam em nossas práticas e decisões, incorporando outras temporalidades como critério de elegibilidade, o que proponho aqui é assumir a atitude possível de gaguejar referida por Stengers, sem reificar a violência da maldição da tolerância e da boa vontade na composição do mundo comum. Ouvir a vida e outros modos de existência para além da medida científico-ocidental se dispondo a hesitar, e hesitar e gaguejar demandam uma digressão ou subversão dos tempos aprendidos. Segundo Stengers diante de outras ecologias de práticas deveríamos produzir momentos de pausa para abrir frestas nos solos das certezas. Deveríamos, por exemplo, olhar ao redor.
Em meu caderno de notas registrei, há alguns anos, uma sentença terminante do professor Gersen Luciano, antropólogo e liderança Baniwa do Alto Rio. Ele enunciava que encontrar outros modos de educação talvez significasse simplesmente, ouvir outros modos de existências. Assim, cultivando a alarida pergunta para desfecho deste texto: será a melhor educação possível aquela que, em vez de melhorar uma ideia do que é viver, libera outros modos de vidas de serem imagem especular do Ocidente? Seria o melhor dos mundos jamais um mundo melhor, mas o desenclausuramento dos muitos modos de ser mundos - como já diziam, há décadas, os Zapatistas? Talvez mais do que repensarmos o que é a educação pudéssemos repensar os possíveis do que é pensável -em ciência e na educação. Como disse Krenak (2019), “talvez estejamos muito condicionados a uma ideia de ser humano e a um tipo de existência. Se a gente desestabilizar esse padrão, talvez a nossa mente sofra uma espécie de ruptura, como se caíssemos num abismo. Quem disse que a gente não pode cair?”